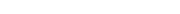Necessidade de Modernização da Administração Pública: Gestão do Património
As administrações públicas estão em osmose - em permanência - com a realidade que administram e que enquadram, regulam ou tutelam. As administrações, sendo referência, reflectem na sua actuação e vivência, face à realidade dos cidadãos, um quadro de valores, que pode (e deve) ser constantemente objecto de análise crítica, recebendo em situação democrática, o aval dessa cidadania, sempre temporalizado em mandatos regulares.
A "arquitectura" organizacional, estatutária e funcional dos serviços públicos, traduz uma realidade que pode e deve ser assunto primeiro de análise. Ao fazê-lo, devemos cruzar com a qualificada experiência que organizações/empresas de vários perfis estatutários ganharam (designadamente as holdings de grandes grupos) com as linhas do percurso do "management" (não referenciando como prevalente um qualquer taylorismo, dos anos 20 que já lá vai e há muito).
Também é necessário compreender que tais estruturas são (e bem) avaliadas, no seu desempenho, pelos cidadãos, sendo que são financiadas globalmente pelos dinheiros públicos. Devemos, igualmente, cruzar com os ensinamentos de inúmeras experiências "comparadas" na administração pública e, particularmente, com a importância de uma densa malha de interventores e decisores.
As entidades das administrações públicas têm particularíssimas responsabilidades perante os seus "accionistas" - os cidadãos. A sua gestão da "coisa pública" tem que ter uma visibilidade em permanência. Mas a realidade complexa parece, em muitos casos, tornar opaca ou, pelo menos, menos legível o que acontece com as diversas entidades das várias administrações.
Sob o fogo cruzado das pulsões supranacionais e dos particularismos locais, o Estado, também ele providência, dotou-se (ou foram-lhe conferidas) missões acrescidas. Consequentemente, redimensionou-se em recursos materiais e humanos, e transmudou-se, sendo que a lógica da gestão estadual ou pública permaneceu (e permanece ainda, em muitos casos) arredada de conceitos de matriz mais avaliativa e económica, descurando análises custo-benefício, ignorando mecanismos de controlo e de auditoria.
A vertente predominante, face às exigências dos cidadãos eleitores, passou a ser mais política do que jurídica. A gestão pura, o rigor, o controlo pareciam fazer nitidamente parte de um universo distinto - o da actividade privada e, mais estritamente, o das empresas e dos empresários.
Esta tendência persistente (que colocou o acento tónico nas opções político-sociais, muitas vezes casuísticas, em detrimento da visão gestionária), considerada apressada e simplistamente tecnocrática e desumanizada, foi conduzindo o Estado e muita da administração pública a uma situação em que é percebido por muitos como sinónimo de desperdício, ineficiência, despesismo e paralisia burocrática.
A introdução de algumas novas ferramentas de gestão, particularmente formalizadas desde 1996, insere-se no contexto que temos vindo a abordar. Reconhece-se hoje que a complexidade dos condicionalismos económicos, jurídicos e políticos que rodeiam a administração pública, não a podem eximir ou dispensar desses instrumentos. Os balanços sociais, os planos oficiais de contas, os planos de actividades (programas, projectos, orçamentos), ou os relatórios de actividade, são actualmente imperativos da gestão.
O sistema da qualidade, identificado pelo DL 135/99, também é prova disso, muito embora a qualidade não se crie por decreto. São os imperativos de gestão que norteiam agora o enquadramento da actuação das organizações públicas e isso envolve, desde logo, dois instrumentos fundamentais: o plano e o relatório de actividades.
O primeiro, como elemento definidor de estratégias, hierarquizador de opções, como documento-programa de acções a realizar e meio ou instrumento de afectação e mobilização de recursos. O segundo, como narrativa do percurso, apontador de desvios, avaliador de resultados e veículo de informação para o futuro.
Por exemplo, a elaboração dos manuais de procedimentos deve, no entender da Sinfic, extravasar a simples descrição de práticas administrativas nas áreas identificadas, devendo posicionar-se como uma oportunidade para a definição de políticas de gestão e organização que norteiem e definam as bases de actuação para os processos em causa, assegurando igualmente a possibilidade de identificar métricas claras que permitam criar uma base sustentada de melhoria e de controlo.
Gestão do património
Com a Portaria n.º 378/94 de 16 de Junho, foram criadas as instruções de inventariação dos móveis do Estado, designadas por CIME (Cadastro e Inventário dos Móveis do Estado). No entanto, este esforço de normalização revelou-se insuficiente, uma vez que não contemplava a organização dos restantes inventários de base - veículos e imóveis.
Por sua vez, através do Decreto-Lei n.º 232/97 de 3 de Setembro, entrou em vigor o POCP (Plano Oficial de Contabilidade Pública), que veio exigir a inventariação sistemática de todos os bens do activo imobilizado dos serviços públicos, tornando-se, portanto, aconselhável que a metodologia do CIME se tornasse extensiva aos demais inventários de base.
Nesse sentido, e considerando a necessidade de fundir num único diploma os três inventários de base (móveis, imóveis e veículos), respeitando uma estrutura normalizadora, surgiu a Portaria n.º 671/2000, publicada em Diário da República - II Série, n.º 91 de 17 de Abril de 2000, que veio aprovar as instruções regulamentadoras do cadastro e inventário dos bens do Estado (CIBE) e respectivo classificador geral, bem como os modelos que lhe são anexos.
De toda esta legislação, resulta uma inevitabilidade para toda a administração: o processo de gestão de activos do património público exige maior rigor, maior controlo, maior racionalidade. No entanto no nosso entender, a gestão patrimonial deverá ir além do controlo do activo imobilizado, possibilitando também a manutenção efectiva e periódica, através da interiorização de uma cultura de património. A realização do inventário físico dos bens e a conciliação deste levantamento com os registos contabilísticos de aquisições não é suficiente para garantir uma gestão eficaz. É necessário implantar normas e procedimentos de controlo e dar formação aos responsáveis pela gestão/custódia dos bens.
Muitos dos órgãos da administração pública não têm um controlo efectivo dos seus bens patrimoniais. Os controlos existentes têm lugar geralmente nas aquisições, onde se fixam simplesmente placas identificadoras que, na maioria dos casos, não facilitam, por exemplo, a realização de inventários periódicos de verificação. Praticamente, não existem rotinas para controlo das movimentações de transferências e baixas de bens imobilizados. O desconhecimento da existência de bens em estado de abandono ou deterioração também não permite que seja realizado o processo de abate contabilístico dos bens patrimoniais.
Produzido em 2005